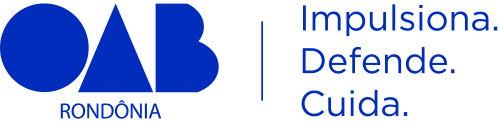Antonio Oneildo Ferreira, diretor-tesoureiro da OAB Nacional
O direito tem um papel relevante na domesticação da política: por intermédio dos direitos fundamentais instituídos pela Constituição, as condições de participação moral e reciprocidade em uma comunidade política são asseguradas, de modo que a cada cidadão se dispensa igual consideração e respeito.
Introdução
Talvez seja mais profícuo, embora nem tanto preciso, definir um conceito a partir do que ele não é. Todos sabemos que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo (o vocábulo democracia provém da junção das palavras demo – povo – e kratos – poder), mas esse truísmo não nos fornece um contorno mais exato do que venha a significar, de fato, o regime de governo mais celebrado e triunfante nos tempos atuais. Na tentativa de imprimir-lhe maior precisão, com muita frequência se diz que a democracia é o governo da maioria. A experiência política nos revela, no entanto, que a democracia não é (simplesmente nem exatamente) o governo da maioria. Essa lição já fora aprendida pelos pais-fundadores dos Estados Unidos da América, porquanto estava no centro dos debates sobre a criação de uma constituição para o governo federativo. O conceito que embaralha governo do povo e governo da maioria é tão equivocado quanto divulgado pelo senso comum. O que restaria às minorias, sem dúvida também incluídas no conceito de “povo”, caso pudessem ser simplesmente esmagadas pelas maiorias permanentes ou ocasionais?
O temor acerca da tirania da maioria tem sido um fantasma a assombrar diuturnamente as nações que querem organizar-se sob o modelo democrático representativo. Paira o receio de que maiorias possam cooptar-se na forma de facções e utilizar-se das regras e dos procedimentos legados pelo sistema político para destruí-lo ou torná-lo inócuo. Ademais, qual segurança teria um indivíduo se seus direitos, sua integridade, sua dignidade, sua liberdade e sua propriedade pudessem ser a qualquer tempo vilipendiados pelas coletividades – representadas ou não pelo Estado? Por que ele juraria fidelidade à democracia vigente em tais circunstâncias de constante incerteza? Seria possível uma democracia estável sob o império de uma soberania popular ilimitada? Eis o dilema que floresce na democracia, tornando-a, até certo ponto, paradoxal e dicotômica em relação ao constitucionalismo: como prevenir a destruição do governo do povo efetuada pelo próprio povo?
A doutrina constitucionalista clássica tentou administrar o paradoxo da democracia valendo-se de princípios e regras inscritos em textos ou dispositivos constitucionais: a defesa de leis gerais e abstratas que vinculem a todos igualmente (Rousseau); a separação de poderes e o desenho de um esquema de freios e contrapesos entre eles (Montesquieu, os Federalistas); a previsão de regras rígidas para a ação legislativa, a institucionalização de direitos naturais dos indivíduos oponíveis contra o Estado (Locke, Kant). Em um contexto caracterizado pela fúria revolucionária das massas que se insurgiam contra governos tirânicos, era preciso cuidar para que o poder insurgente não se configurasse ele mesmo uma nova tirania – como ironicamente aconteceu após a Revolução Francesa, com o advento do jacobinismo da “Fase do Terror”.
No âmbito da doutrina constitucional, direito e política foram isolados em campos opostos, porém inter-relacionados: ao mesmo tempo em que a política daria concreção ao direito, este emprestaria àquela legitimidade e vestígios de justiça. Era preciso que o direito domesticasse a indomável política. Foram retomadas as raízes do pensamento liberal inglês – especialmente o credo de que os indivíduos possuem direitos invioláveis preliminares à criação do Estado –, ressalvando-se a consciência de que a ameaça a esses direitos poderia provir não apenas do Estado absolutista, mas também de um Parlamento ou de um Congresso democraticamente eleito. O desafio de dar corpo à soberania popular trazia à mente a lição de que toda soberania desenfreada conduz a abusos.
Os direitos públicos (hodiernamente chamados de direitos fundamentais) então apareceram como trunfos do indivíduo contra a maioria, daí seu caráter ontologicamente contramajoritário. Notáveis juristas contemporâneos filiados à tradição liberal, como o estadunidense Ronald Dworkin, ainda compartilham com intensidade axiomática dessa premissa fundamental. A previsão de um núcleo de intangibilidade do indivíduo frente a um eventual furor destrutivo da maioria deu razão lógica às especiais atribuições destinadas ao Poder Judiciário em um governo constitucional: cabe ao Judiciário defender os direitos plasmados na Constituição, mesmo que venha a contrapor-se à vontade majoritária, ao clamor popular, à opinião pública. O Judiciário ganha destaque em contraposição às instituições majoritárias – legislativas e executivas –, que funcionam de acordo com a regra da maioria e das quais se espera uma correspondência integral com a vontade majoritária do povo, principalmente em virtude de serem eleitas pelas maiorias.
Sob a égide do constitucionalismo moderno, foi consolidado um desenho constitucional de organização e separação dos poderes, composto de dois poderes de natureza majoritária e um de natureza contramajoritária, condição sine qua non para a manutenção das instituições democráticas. Aliado ao seu papel de aplicador das leis, emerge, na discussão de fundação do constitucionalismo estadunidense, a imagem de um Judiciário encarregado de uma missão contramajoritária: a missão de colocar-se, como um escudo dotado de poderes institucionais, em favor dos direitos de indivíduos que restariam liminarmente condenados pelo irresponsável, imprudente e passional julgamento popular, e, no limite, em favor da Constituição e das regras do jogo democrático.
O processo judicial, orientado pelo princípio do devido processo legal (due process of law) e situado sob o amparo do Estado democrático de direito, ocupa a linha de frente da proteção dos direitos. Muito se tem escrito, na literatura acadêmica, a respeito do papel jusgarantista dos juízes, mas causa espanto a expressiva lacuna no que concerne ao estudo analítico do papel da advocacia para a consolidação de um poder contramajoritário. No desenho constitucional traçado pelo constituinte originário brasileiro de 1988, emerge a advocacia, com sua natureza contramajoritária, como pressuposto necessário e indispensável2 ao regular funcionamento do Estado democrático de direito. A natureza contramajoritária da advocacia a projetou para essa dimensão constitucional.
Sem um advogado ou uma advogada que patrocine uma causa com suporte em uma pretensão juridicamente tutelada, o cidadão não chega sequer a ter sua reivindicação contramajoritária escrutinada pelo órgão judiciário, de tal sorte que de nada valeriam os direitos se, concomitantemente, não houvesse uma advocacia combativa e atuante, até mesmo desafiadora frente aos interesses e às opiniões da maioria. Tanto quanto aos juízes, insta à advocacia empunhar a bandeira da questão contramajoritária. Ao passo que se costuma associar o Ministério Público aos interesses da sociedade, é razoável preceituar ao Judiciário e à advocacia o resguardo e a defesa intransigente dos direitos do cidadão jurisdicionado, quando este é acusado pelos tutores da maioria social (o Ministério Público) em um processo judicial.
A questão contramajoritária e os direitos
O embrião do que ulteriormente veio a ser denominado questão contramajoritária pelos constitucionalistas e filósofos políticos contemporâneos remete às discussões sobre a Constituição dos Estados Unidos da América. Naquele momento, inaugurou-se a preocupação com a ameaça de uma tirania oriunda das facções que se poderiam apoderar dos governos populares, algo distinto da cediça tirania dos governos absolutistas. Entre maio e setembro de 1787, a Convenção de Filadélfia ficou encarregada de deliberar uma nova carta política fundamental para o governo da União, em substituição aos defasados Artigos da Confederação de 1781. “O Federalista” é o nome dado à compilação de uma série de ensaios, de autoria de Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, publicados na imprensa de Nova Iorque em 1788 com o intuito de persuadir os Estados a ratificarem a nova Constituição.
Seguindo a linha do movimento constitucionalista liberal, o tema central e onipresente da obra é o esforço pelo estabelecimento de controles bem definidos sobre os detentores do poder, partindo-se do pressuposto de que “as estruturas internas do governo devem ser estabelecidas de tal forma que funcionem como uma defesa contra a tendência natural de que o poder venha a se tornar arbitrário e tirânico”.3 Para tal desiderato, evocou-se a formulação de Montesquieu a respeito da separação de poderes. Madison, um dos mais influentes estadistas daquela época, apropriou-se do princípio, também subjacente ao pensamento de Montesquieu, de que “não se nega que o poder é, por natureza, usurpador, e que precisa ser eficazmente contido, a fim de que não ultrapasse os limites que lhe forem fixados”.4
Montesquieu parte da apologia do governo misto da Inglaterra, no qual vislumbrava uma genuína separação de poderes. Nele, cada classe social relevante era responsável por uma das funções estatais, de tal sorte que se estabelecia um equilíbrio: a realeza pelo Executivo; a nobreza, pela Câmara dos Lordes (dotada, entre outras, de funções judiciárias); e o povo, pela Câmara dos Comuns (dotada de funções legislativas). Cabe registrar que o publicista francês não ousava esboçar um governo popular bem-sucedido nos tempos modernos, pois acreditava que a governabilidade dos Estados com territórios vastos e população numerosa apelava para governos fortes e vigorosos que só poderiam ter lugar em uma monarquia constitucionalmente limitada.
Encontramos nos escritos federalistas, pelo contrário, a primeira teorização moderna dos governos populares, dissonante das meditações republicanas gregas e romanas na medida em que pressupõe o mecanismo do vínculo de representação5 como garantidor da mediação social necessária em nações amplas e demasiado povoadas. Ao contrário do que o ethos greco-romano clássico recomendava, não era absolutamente indispensável que um governo popular se alojasse em pequenos territórios habitados por cidadãos irrepreensivelmente virtuosos, razão pela qual não era necessário recorrer a um governo misto de forte componente monárquico. É traçado o esquema de freios e contrapesos (checks and balances) com a expectativa de atingir-se uma governança equilibrada: “os diferentes ramos de poder precisam ser dotados de força suficiente para resistir às ameaças uns dos outros, garantindo que cada um se mantenha dentro dos limites fixados constitucionalmente”.6
Embora a forma republicana eliminasse de antemão a tendência acumuladora e unipessoal de uma monarquia, ela não dissolvia, em princípio, o problema do monopólio do poder por parte de uma facção suficientemente poderosa a ponto de neutralizar o poder das outras. A querela das facções habitou as inquietações nucleares da doutrina dos federalistas. A regra da decisão pela maioria representaria uma ameaça aos direitos das minorias, uma vez que as facções majoritárias, que controlam o poder, teriam tendência natural ao abuso enquanto não encontrassem freios diante de si. O “calcanhar de Aquiles” da democracia coincidiria, então, com sua grande virtude: o domínio da maioria. Ao desígnio de evitar as arbitrariedades cometidas pelo governo da maioria corresponderam os direitos individuais. Nas palavras de Madison:
Quando a maioria integra uma facção, a forma do governo popular, por sua vez, a habilita a sacrificar à sua paixão pelo poder ou a seus interesses tanto o bem público como os direitos dos outros cidadãos. Resguardar este bem público e estes direitos individuais contra os perigos de tal facção e, ao mesmo tempo, preservar o espírito e a forma do governo popular é, portanto, o grande objetivo para o qual nossas pesquisas estão voltadas.7
Por seu turno, Hamilton avança ainda mais e analisa o problema sob o prisma do controle judicial dos atos legislativos incompatíveis com o documento constitucional. Ele chega a enunciar uma incipiente defesa do tipo de controle de constitucionalidade que, mais tarde, seria celebrado como judicial review, ao afirmar que as limitações decorrentes dos direitos individuais “somente poderão ser preservadas na prática através das cortes de justiça, que têm o dever de declarar nulos todos os atos contrários ao manifesto espírito da Constituição. Sem isso, as restrições contra os privilégios ou concessões particulares serão inúteis”.8 De forma inconteste, Hamilton atribui às cortes judiciais a tarefa de proteger as minorias, isto é, de ocupar-se da questão majoritária mediante a conservação dos direitos:
(…) não deve concluir-se deste princípio [do princípio majoritário] que os representantes do povo estejam autorizados para violar a Constituição, todas as vezes que a maioria dos seus constituintes se mostrar momentaneamente inclinada a violá-la (…). Mas, de quanta coragem necessitam os juízes para defender a Constituição tão fielmente como lhes cumpre, quando o corpo legislativo é excitado nos seus ataques pela maioria da nação.9
A teoria dos direitos individuais que serviu de coração e mote do pensamento constitucionalista norte-americano repousa suas raízes no liberalismo inglês, evidentemente uma influência para os colonos libertários, cuja mais bem-acabada estruturação se encontra na obra de John Locke, pai do liberalismo político e precursor da sustentação filosófica do capitalismo. Locke era um ferrenho opositor das ideias absolutistas. Seu principal escrito político, “Dois tratados sobre o governo civil”, sobreveio como uma monumental justificação teórica a posteriori da Revolução Gloriosa, que havia há pouco deposto o rei Jaime II e decretado o triunfo do Estado liberal sobre o absolutismo, bem como da supremacia legal do Parlamento sobre a monarquia ilimitada. O novo regime de monarquia constitucional, sob a égide de Guilherme de Orange, pronunciou a aprovação da Bill of Rights (Declaração de Direitos) em 1689, dando continuidade à tradição das liberdades públicas inaugurada pela Magna Carta (1215-1225) e complementada pela Petition of Rights (1628) e pelo Habeas Corpus Amendment Act (1679).
No individualismo lockeano é perceptível a preocupação com a limitação do poder da maioria em benefício do indivíduo. Ali podemos detectar as sementes da questão contramajoritária. Em Locke, o consentimento expresso dos governados é a exclusiva fonte de legitimidade do poder político. A existência de direitos é ancorada no jusnaturalismo, a saber, no juízo de que há direitos inerentes ao homem que devem forçosamente ser respeitados e resguardados pelo Estado. Isso porque a passagem de um estado pré-social e pré-político, mediatizada pelo contrato social, para o estado civil acontece justamente para que sejam assegurados os direitos naturais do ser humano (sua vida, sua liberdade, seus bens – sua propriedade lato sensu), dos quais ele já era possuidor no ambiente de relativa paz, concórdia e harmonia que reinava no estado de natureza.10 Argumenta Locke: “O estado de natureza tem uma lei a governá-lo e que a todos submete; e a razão, que é essa lei, ensina a todos os homens que apenas a consultam que, sendo todos iguais e independentes, nenhum deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses[…]“.11 Na medida em que a propriedade já existe no estado de natureza e é anterior à própria sociedade, consiste direito natural do indivíduo que não seja violada, tendo em vista que os homens só consentiram com um governo civil para preservar suas propriedades da turbação alheia.
Uma vez celebrado o contrato social, o consentimento unânime do contrato originário cede lugar a uma forma de governo regida pela decisão majoritária, ressalvados os direitos das minorias. A tirania é a extrapolação dos limites do direito de propriedade e do princípio do bem comum pelo governo. Em casos de tirania, é lícito aos governados resistir pela força – aqui também são lançadas as bases do direito de resistência: “Em todos os estados e condições, o verdadeiro remédio contra a força sem autoridade é opor-lhe a força. O emprego da força sem autoridade coloca sempre quem dela faz uso num estado de guerra, como agressor, e sujeita-o a ser tratado da mesma forma”.12 Não se pode negar que a tirania pode subsistir mesmo quando a maioria está convicta de que age visando ao bem comum ou apelando a um suposto interesse coletivo transcendental. Onde houver desrespeito aos direitos das minorias, haverá tirania.
Com esse pensamento, Locke influenciou direta e categoricamente a Revolução Americana: a Declaração de Independência e a mais tardia Declaração de Direitos (Bill of Rights) foram ambas concebidas em termos de direitos naturais. Por todo o texto da Declaração, assinado por Thomas Jefferson, reverbera a notável ingerência do jusnaturalismo daquela época: “Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade”.13 No ápice da linha evolutiva do constitucionalismo liberal norte-americano localiza-se a obra de Ronald Dworkin, revitalização crítica do liberalismo da maior importância. Em Dworkin avistamos a mais completa reflexão sobre a questão contramajoritária, na qual o jusfilósofo fundamenta a existência dos direitos. Sua tese dos direitos começa com o seguinte postulado, que repousa nos direitos morais que os indivíduos possuem em face da maioria:
A teoria constitucional em que se baseia nosso governo não é uma simples teoria da supremacia das maiorias. A Constituição, e particularmente a Bill of Rights, destina-se a proteger os cidadãos (ou grupos de cidadãos) contra certas decisões que a maioria pode querer tomar, mesmo quando essa maioria age visando o que considera ser o interesse geral ou comum.14
Toda vez que pudermos demonstrar que o Estado comete um erro ao tratar um indivíduo de certa forma (ainda que se ampare em um suposto interesse geral), esse indivíduo é titular de um direito moral. O direito moral basilar seria o direito abstrato de igualdade, que exige que o Estado trate todos os cidadãos submetidos à sua jurisdição com igual consideração e respeito:
Creio que os princípios estabelecidos na Declaração de Direitos, tomados em seu conjunto, comprometem os Estados Unidos com os seguintes ideais políticos e jurídicos: o Estado deve tratar todas as pessoas sujeitas a seu domínio como dotadas do mesmo status moral e político; deve tentar, de boa-fé, tratar a todas com a mesma consideração; e deve respeitar todas e quaisquer liberdades que forem indispensáveis para esses fins (…).15
Além do mais, Dworkin não desenvolve seu raciocínio sem antes enfrentar o que denomina argumento em favor da democracia. Essa tese de forte matiz republicano foi construída em território norte-americano pelo jurista Alexander Bickel, um crítico da judicial review que objetava a esta a dificuldade contramajoritária, e endossada por nomes contemporâneos céticos quanto ao controle de constitucionalidade, como Jeremy Waldron e Cass Sunstein. Para entender a defesa do controle judicial de constitucionalidade, é preciso, antes de tudo, aclarar os contrastantes conceitos de democracia em Bickel e Dworkin.
O argumento em favor da democracia, pano de fundo da concepção de Bickel, insiste que todas as questões relativas a princípios morais e jurídicos devem ser resolvidas por instituições politicamente responsabilizáveis (a saber, instituições eleitas). Mas ignora que decisões que envolvem direitos da minoria não devem, por razões de equidade, ser deixadas a cargo da maioria, porque o constitucionalismo limita os poderes da maioria, ao tempo em que protege os direitos da minoria, e não parece justo ou coerente permitir que a maioria julgue em causa própria. A concepção de direitos contra o Estado exige uma instituição isolada do poder político e capacitada para julgá-lo quando ele desatina em decisões que possam afetar os direitos das minorias vencidas no processo político.16
A crítica da premissa majoritária é fulcral para a teoria da democracia de Dworkin. A premissa indica que os resultados de um processo político seriam justos quando favorecidos por uma decisão da maioria dos cidadãos: “supõe que, quando uma maioria política não pode fazer o que quiser, isso é sempre injusto, de tal modo que a injustiça permanece mesmo quando existem fortes razões que a justifiquem”.17 Contra essa tendência, o pensador do direito propõe a concepção constitucional de democracia, que supõe que a comunidade política seja governada por um agente coletivo especial e distinto de cada um dos indivíduos, e não pela mera soma estatística de cada um.18 Esse agente coletivo está adstrito ao cumprimento do princípio da igualdade em suas relações com cada cidadão em particular: as decisões coletivas de uma democracia constitucional devem ser “tomadas por instituições políticas cuja estrutura, composição e modo de operação dediquem a todos os membros da comunidade, enquanto indivíduos, a mesma consideração e o mesmo respeito”.19
Por isso, em ocasiões especiais é necessária uma instituição politicamente neutra que exerça um (contra)poder contramajoritário em favor de minorias fragilizadas ou de um indivíduo específico. Nesse sentido, um Judiciário protetor dos princípios de justiça e dos direitos individuais será, em vez de usurpação, um aprimoramento da democracia. A democracia está sujeita a condições, sendo as principais delas a participação moral e a reciprocidade. Entende-se por participação moral a circunstância na qual um ato da comunidade pode ser considerado “um ato meu, mesmo quando estou em desacordo com ele”. Para que ela se verifique, é imprescindível que todo e qualquer membro da comunidade seja também seu membro moral, isto é, seja tratado igualmente em seus interesses e dignidade:20 “o processo político de uma comunidade política verdadeira deve expressar alguma concepção de igualdade de consideração para com os interesses de todos os membros da comunidade”.21 Participação moral e reciprocidade – ou também poderíamos dizer solidariedade social – formam um par indissociável: “uma sociedade em que a maioria despreza as necessidades e perspectivas de uma minoria é não só injusta como ilegítima”22 – arremata Dworkin.
Conquanto as teorias apresentadas (dos federalistas Madison, Hamilton e Jay; de Locke; e de Dworkin) tenham nascido no bojo de uma tradição jurídica alienígena – a tradição do common law anglo-saxão –, é indubitável que todas as democracias contemporâneas, e o Brasil é uma delas, importaram o princípio fundamental de que indivíduos possuem direitos sobre as maiorias. Uma vez haja adesão a esse princípio, todas as reflexões precedentes e subsequentes são invariavelmente válidas. Em suma, a democracia só existe quando as condições de participação moral e reciprocidade são atendidas. Na ausência delas, ou quando descumpridas, a intervenção de um tribunal que exerça função contramajoritária de defesa de direitos violados se faz primordial, indispensável e completamente pertinente em uma democracia constitucional.
Na mesma linha, a advocacia possui a dimensão constitucional de ser indispensável à administração da justiça (art. 133 da Constituição Federal). Nos casos concretos em que atuam, advogadas e advogados são os companheiros inseparáveis do cidadão em sua resistência contra o Estado-Leviatã.23 É a advocacia que acompanha o cidadão quando este é chamado para defender-se perante o Estado-juiz; ela é responsável pela materialização dos direitos e, por conseguinte, da cidadania e da democracia. Independentemente da gravidade do delito ou da repercussão do fato, em um Estado democrático de direito todo acusado tem direito à defesa, verdadeiro “apanágio dos povos civilizados”.24 É imperioso o papel desempenhado pela advocacia enquanto agente de defesa contramajoritária dos direitos, da Constituição e dos princípios de justiça. Esse ministério foi repetidas vezes desempenhado pela advocacia através da história, de maneira a se afirmar seu inexpugnável caráter genuinamente contramajoritário.
Em resumo, a advocacia atua de forma contramajoritária na medida em que defende em juízo os direitos de seus constituintes contra as violações e acusações consumadas pelo Poder Público. Dessa perspectiva, pode-se dizer que o indivíduo ou as minorias, contanto que representados em juízo, encontram na figura da advogada ou do advogado um suporte diante da irascível arbitrariedade que acomete a opinião pública e o julgamento popular. Lado a lado com o Judiciário, a advocacia também é uma instituição contramajoritária, pois participa ativamente do deslinde do devido processo legal e da busca da melhor interpretação acerca dos direitos dos cidadãos. A intercessão em favor das minorias, realizada pela advocacia e pelo Judiciário, caracteriza uma democracia constitucional comprometida com evitar a tirania da maioria e com superar a insustentável premissa majoritária.
O direito tem um papel relevante na domesticação da política: por intermédio dos direitos fundamentais instituídos pela Constituição, as condições de participação moral e reciprocidade em uma comunidade política são asseguradas, de modo que a cada cidadão se dispensa igual consideração e respeito. Essa mesma ideia foi reafirmada desde os primórdios do pensamento liberal anglo-saxão, que vai parte do contrato social e do jusnaturalismo de Locke, passa pelo constitucionalismo dos Federalistas Madison, Hamilton e Jay, até frutificar na tese dos direitos como trunfos, de Dworkin – esta, a mais séria meditação sobre a questão contramajoritária. Nessa empreitada de limitação do poder despótico, a advocacia encontra total identificação.
____________
1 Este artigo integra uma trilogia a respeito da natureza contramajoritária da advocacia. Seus componentes intitulam-se “A natureza contramajoritária da advocacia sob a perspectiva da teoria democrática”, “A natureza contramajoritária da advocacia através da história” e “A natureza contramajoritária da advocacia sob a perspectiva da ética profissional”. Cada qual enfoca uma abordagem do mesmo fenômeno: respectivamente, doutrinária e teórica; histórica; e ético-normativa. Recomenda-se que sejam lidos em conjunto para uma mais ampla visão da temática.
2 Dita o art. 133 da Constituição Federal: “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.
3 LIMONGI, Fernando Papaterra. “‘O Federalista’: remédios republicanos para males republicanos”. In: WEFFORT, Francisco (org.). Os clássicos da política. Vol 1. São Paulo: Ática, 2006. (p. 249)
4 MADISON, James. “Federalista n. 48″. In: HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. Trad.: Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Editora Líder, 2003. (p. 305)
5 Madison defende as repúblicas em detrimento das democracias puras. As repúblicas instituem o componente da representação, delegando as funções essenciais de governo a um número menor de cidadãos.
6 LIMONGI, Op. cit., p. 251.
7 MADISON apud LIMONGI, p. 265.
8 Ibidem, p. 275.
9 HAMILTON, Alexander. “Federalista n. 78″. In: HAMILTON; MADISON; JAY. Op. Cit., p. 461.
10 MELLO, Leonel Ituassu de Almeida. “John Locke e o individualismo liberal”. In: WEFFORT, Francisco (org.). Os clássicos da política. Vol 1. São Paulo: Ática, 2006. (p. 84)
11 Ibidem, p. 91.
12 Ibidem, p. 104.
13 Jefferson reproduz também as teses da legitimidade dos governos mediante o consentimento expresso dos governados e do direito de resistência ante a tirania do soberano: “Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados; que, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade”.
14 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad.: Nelson Boeira. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. (p. 208)
15 DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. Trad.: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006. (p. 11)
16 DWORKIN, 2007, Op. Cit., pp. 221-230.
17 DWORKIN, 2006. Op. Cit., p. 25.
18 Ibidem, pp. 30-31.
19 Ibidem, p. 26.
20 Ibidem, p. 35.
21 Ibidem, p. 38.
22 Ibidem, p. 39.
23 Conceito referente à alegoria celebrizada por Thomas Hobbes, que evoca o Estado como um “monstro implacável”, em razão de seu poder e da força que é capaz de mobilizar.
24 APPROBATO MACHADO, Rubens. “Em defesa da advocacia”. Acesso em: 16/02/2017.