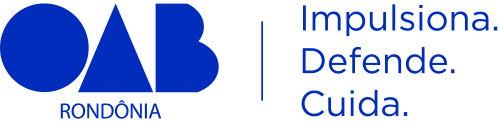Antonio Oneildo Ferreira é advogado e diretor-tesoureiro do Conselho Federal da OAB.
Introdução
O Poder Judiciário brasileiro enfrenta uma recrudescente crise em sua capacidade de responder efetivamente e com justiça às demandas pela boa aplicação do direito. Na medida em que o Estado detém o monopólio do uso legítimo da força – na consagrada conceituação de Max Weber1 –, avoca para si a correspondente concentração do exercício da atividade jurisdicional, vedando-se, assim, a autotutela e a vingança privada por parte de seus cidadãos. A competência jurisdicional é aspecto imanente à soberania estatal em âmbito interno: desde a tradição juspositivista calcada no contratualismo de Thomas Hobbes2, aprendemos que os indivíduos, a princípio imersos em um estado de natureza anárquico e apolítico, cedem (parcela de) sua liberdade anteriormente irrestrita em prol do soberano, este, sim, responsável pela guarida da paz social, pelo apaziguamento da guerra de todos contra todos. Ao autolimitar sua própria liberdade a fim de que os espaços individuais de liberdade coexistam harmonicamente, segundo uma “lei geral de liberdade” (tal é o princípio do direito kantiano, que perdura por longo tempo no imaginário compreensivo dos Estados liberais modernos), os sujeitos entendem-se como súditos de uma ordem de onde emanam as normas obrigatórias de conduta e copartícipes de uma comunidade pela qual regulam sua vida pelos meios do direito positivo. É acertado afirmar, nesse compasso, que o Estado também detém a reserva de jurisdição. Disso implica que o Estado não possui somente a faculdade de dirimir os conflitos sociais com base em sua autoridade judicial, senão que possui o dever de fazê-lo, pelo simples motivo de vedar tal atribuição aos particulares.
Nada obstante, no contexto de uma sociedade cujas relações (sejam sociais, sejam políticas) são cada vez mais judicializadas, em que o Estado-juiz é chamado constantemente para exercer seu papel de pacificação e de estabilização de comportamentos segundo padrões normativos, conclamado a dizer o direito, naturalmente os órgãos judiciais sofrem de uma contundente saturação de sua capacidade instalada. A abertura normativa e abstrata à judicialização, a “promessa” de acesso à justiça, não tem sido acompanhada por um adequado e concreto aparelhamento das instituições públicas decisórias. Assistimos a vários fatores e circunstâncias que corroboram semelhante assertiva: a falta de investimento nas estruturas físicas, tecnológicas e na contratação/capacitação de servidores, incluindo-se serventuários da justiça, em geral, e os próprios magistrados; a inexatidão e maleabilidade do sistema recursal e a deficiência de controle dos processos; a burocratização e a conseguinte lentidão do deslinde dos atos processuais etc. Esse contexto conturbado reacende a efervescência de argumentos de cunho utilitarista, que apelam para a máxima produtividade – em termos notadamente estatísticos – do sistema judicial, a qual, bem se sabe, costuma comprometer a qualidade das decisões judiciais e sua função primordial de justa pacificação dos conflitos sociais. Afinal, o compromisso dos tribunais é com a justiça ou com a eficiência?
1. Política Judiciária restritiva de jurisdição
Dados apresentados pelo CNJ3 são prova dessa realidade. Em 2014, o Poder Judiciário possuía um estoque de 70,8 milhões de processos, sendo que o total de processos baixados foi inferior ao de ingressados. Como consequência, a taxa de congestionamento naquele ano foi de 71,4%, com aumento de 0,8% em relação a 2013. Os casos pendentes crescem continuadamente desde 2009 e não há qualquer perspectiva de que esse quadro mude espontaneamente. A culpa por esse imbróglio muitas das vezes é injustamente imputada ao trabalho dos profissionais da advocacia, quando da legítima interposição dos recursos conferidos pelo sistema processual em prol do patrocínio dos direitos de seus clientes. O combate à morosidade judicial não deve mirar a restrição do acesso ao devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e das garantias recursais, sob o subterfúgio do truísmo de que os recursos quase sempre são meramente protelatórios.
Para lidar com o malsinado fenômeno da morosidade ocasionado pela saturação de sua capacidade instalada, o Poder Judiciário, sobretudo na figura dos tribunais superiores e dos Juizados Especiais, tem lançado mão de uma questionável política judiciária restritiva de jurisdição. Por meio desta, é criada uma série de óbices ao acesso integral à tutela jurisdicional. As causas acabam por ser coletivizadas conforme a categoria de demandas individuais repetitivas, concentrando-se a atenção nos julgamentos-paradigma, ao passo que se deixa em segundo plano os demais processos. A nomenclatura da “política de eficiência processual” abarca institutos como da repercussão geral e da súmula vinculante e, mais recentemente, do incidente de resolução de demandas repetitivas4, inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil (NCPC: Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), cuja finalidade seria agrupar processos que ainda não tenham chegado aos tribunais superiores e uniformizar entendimentos de questões comuns. O referido instituto nega ao cidadão a possibilidade de ter seu processo analisado de forma individual e de acordo com as peculiaridades de cada situação jurídica e fática. Afinal, a aplicação da justiça e a consecução do ideal de imparcialidade pressupõem a análise atenta e detida sobre a singularidade de um único e irrepetível caso, para o qual, como leciona o Prof. Menelick de Carvalho Netto5, há senão uma única decisão correta, devendo o juiz engajar-se no esforço de fornecer a melhor resposta àquele conflito trazido ao seu julgamento à luz da melhor interpretação do direito.
Convencionou-se denominar “jurisprudência defensiva” esse particular modo de gestão do ingresso e das condições de admissibilidade/prosperidade de uma pretensão jurídica. Em crescente desenvolvimento desde a presidência do Ministro Nelson Jobim no Supremo Tribunal Federal (2004-2006), o termo jurisprudência defensiva não passa de uma rotulação eufemística de um dos aspectos do que venho chamando de política judiciária restritiva de jurisdição. Grosso modo, consiste em um conjunto de entendimentos sem amparo legal – sejam extralegais ou até mesmo contra legem – voltados a obstaculizar o exame do mérito dos recursos (principalmente dos recursos Extraordinário e Especial em sede cível) por meio da exacerbada rigidez conferida aos requisitos formais de admissibilidade recursal. O aborto prematuro desses recursos, plasmado no pretexto técnico-formalista, tem sido o caminho diuturnamente trilhado pelos julgadores para aliviar sua própria sobrecarga de trabalho, seguindo a máxima economicista de que seu tempo deve ser aproveitado na meditação sobre casos de maior relevância. Os tribunais acabam por criar novas condições restritivas, para além da lei – isto é, acabam por legislar –, que consistem em verdadeiras armadilhas para as partes e seus procuradores, os quais perdem de vista a segurança jurídica devido à imprevisibilidade de quais formas serão (absurdamente) exigidas a partir de um dado momento. A “Justiça” (entre aspas, pois nem sempre, e neste caso menos ainda, a instituição incumbida de aplicar o valor da justiça assim o faz) assim semeia o terreno de um campo opaco, vacilante, imprevisível, nos introduz em um mundo kafkiano onde não há possibilidade de antever seus procedimentos e de vislumbrar com clareza sua racionalidade.
A título exemplificativo, pode ser colacionada uma dúzia de situações em que se tem julgado inadmissível, por entendimento consolidado no STF ou no STJ, um recurso com base em formalismos extralegais ou contralegais: 1) recursos não assinados pelas partes ou pelos mandatários; 2) irregularidade na constituição do advogado; 3) carimbos borrados e ilegíveis por culpa das secretarias dos tribunais; 4) incorreção do preenchimento da guia de custas; 5) não reiteração do pedido de justiça gratuita; 6) ausência de peça essencial ao agravo; 7) ausência de comprovação do feriado local ou de motivo de suspensão do prazo na origem; 8) ausência de ratificação de recurso antes do termo inicial, punindo-se as partes que se adiantam ao juízo e colaboram com a celeridade; 9) consideração de intempestividade do recurso protocolado antes da publicação do acórdão; 10) não conhecimento dos recursos protocolados antes da decisão sobre embargos de declaração, mesmo que a parte em questão não tenha proposto o embargo ou que o embargo não tenha modificado a sentença; 11) infungibilidade entre RE e REsp (Recursos Extraordinário e Especial); 12) não reconhecimento do chamado prequestionamento ficto6.
Todas essas práticas de política judiciária restritiva de jurisdição têm ocorrido à revelia do art. 13 do CPC de 1973, segundo o qual “verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito”. Muito embora seja pacífica a aplicação desse dispositivo aos processos oferecidos em primeira instância, o STF e o STJ têm incorrido em uma grave incoerência, afastando a aplicabilidade da mencionada regra aos processos que tramitam em instância recursal7. Com o fito de combater essa prática em consolidação, o NCPC-2015 prevê normas literal e explicitamente contrárias à hiperbólica valorização das formalidades na ocasião do juízo de admissibilidade dos recursos nos tribunais. Podemos citar, sem pretensão de exaustividade, uma miríade de dispositivos que rechaçam visivelmente o formalismo até então exarado por nossos tribunais superiores: art. 76; art. 932, § único; art. 1029, §3º; art. 1007, §7º; art. 1024, §5º; arts. 1032 e 1033; art. 1025; art. 1017, §3º; art. 218, §4º; art. 1003, §§4º e 6º; art. 938, §1º.
Apesar dos avanços deflagrados pela novel legislação processual, a intolerável política judiciária restritiva de jurisdição prossegue com toda força, com supedâneo nos procedimentos rotineiros dos Juizados Especiais. Muitas das vezes, o pouco apreço dispensado pelo julgador às “pequenas causas” conflagra uma hipótese de cerceamento da devida prestação jurisdicional. Nas causas que enfrentam relações de consumo em massa – como aquelas que têm como litigantes, de um lado, consumidores hipossuficientes e, de outro, grandes corporações dos ramos de telecomunicações e transportes, por exemplo – tem faltado às decisões judiciais a devida severidade diante de práticas abusivas reiteradas de empresas que lesam incansavelmente os cidadãos com serviços prestados de maneira deficitária. Sentenças sem caráter pedagógico contribuem para a replicação das práticas abusivas, enquanto sentenças brandas podem ser insignificantes tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista da reputação das empresas, não servindo ao escopo de prevenção de ilegalidades, um dos fundamentos da imposição de sanções jurídicas.
Das decisões dos Juizados, deduz-se uma compreensão de que, frequentemente, deixa-se de condenar uma empresa sob o pretexto de que, em caso de condenação, se estaria fomentando a “indústria do dano moral”. Sucessivas condenações embasadas em danos morais dariam azo ao enriquecimento sem causa das partes pleiteantes. Então, muitas ações são julgadas improcedentes com o argumento de que naquele caso específico, em lugar de dano moral configurado, haveria somente mero aborrecimento, circunstância não ensejadora de reparação pecuniária. Entendo que o argumento da “indústria do dano moral”, aplicado em larga escala de modo a ignorar a profunda análise e a adequada consideração do dano moral alegado, trata-se de mais uma das faces da política judiciária restritiva de jurisdição.
Ademais, a simplificação procedimental dos Juizados pode favorecer a ocorrência de obscuridades na sentença que venham a dificultar a fundamentação de eventuais razões recursais futuras perante a própria Turma Recursal. A Lei 9.099/1995, que cria e regula os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, dispensa o relatório na sentença, a qual deverá mencionar apenas “os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência” (…) (ver arts. 38 e 81, §3º). E ainda, conforme enunciado nº 125 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), a orientação é de que: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n° 9.099/1995, com a finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (XXI Encontro – Vitória/ES). Vê-se uma flagrante restrição às possibilidades de interposição de futuro RE perante o STF, o qual exige o requisito do prequestionamento. Aliás, ao passo que “é cabível Recurso Extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por Turma Recursal de Juizado Especial Cível e Criminal”, como consigna a Súmula nº 640 do STF, o mesmo não se pode dizer a respeito do cabimento de REsp no STJ. A jurisprudência deste tribunal tem sido uníssona no sentido de que “não cabe Recurso Especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais” (ipsis litteris, Súmula n° 203-STJ). A denegação de apreciação recursal do Superior Tribunal se vale de uma incoerência identificada numa omissão textual da Constituição: o art. 105, III da Carta Magna prescreve que o STJ conhecerá de REsp contra decisão de tribunal, mas não reconhece às Turmas Recursais, expressamente, o caráter de tribunais, embora sejam órgãos colegiados que desempenham função análoga (ver art. 92-CF). A Constituição é anterior à Lei dos Juizados; logo, é evidente o motivo pelo qual não incluiu as Turmas Recursais no rol de tribunais, porquanto tratavam-se de órgãos até então inexistentes em nossa estrutura institucional. Uma hermenêutica que leve a sério o espírito da Constituição albergaria o inequívoco entendimento de que as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, devido à função que desempenham no sistema judiciário recursal, devem ser equiparadas aos tribunais.
Uma tal visão do STJ denuncia o quão impregnada sua jurisprudência está pela política judiciária restritiva de jurisdição. Aproveitando-se oportunamente de um “aguilhão semântico”, os excelentíssimos ministros, empregando uma hermenêutica literal e nada sistemática, desincumbem-se do dever de julgar esse tipo de recurso e eximem-se da responsabilidade de uniformização das decisões judiciais à luz das leis federais – a função precípua da atividade do STJ em seara recursal.8 Acertada é a visão ampliativa e inclusiva do STF assentada no já retromencionado enunciado sumular. Afinal de contas, as decisões de todos os órgãos jurisdicionais do Estado – juízos singulares ou tribunais colegiados, comuns ou especiais, estaduais ou federais – devem ser uniformizadas, pois o Estado possui o dever de dizer o direito com integridade e coerência, derivado de seu dever mais geral de tratar a todos os cidadãos com igual consideração e respeito. Inadmissível que tribunais decidam questões semelhantes aplicando distintamente as mesmas leis e resolvendo-as em direções contrárias, pois, neste caso, o Estado deixaria de falar com uma só voz e, portanto, renunciaria ao imperativo de integridade gerado pelo princípio da igualdade. Uma entidade – e o Estado é uma entidade coletiva, a personificação do “nós” coletivo – não pode ser autora de decisões incoerentes e contraditórias em princípio.
- Crítica antiutilitarista, à luz dos direitos fundamentais, da política judiciária restritiva de jurisdição
A filosofia utilitarista que a política judiciária restritiva de jurisdição transparece, baseada nos padrões de eficiência, rapidez e produtividade – padrões tipicamente pertencentes ao imaginário econômico – não é, como já bem demonstrou o eminente jusfilósofo estadunidense Ronald Dworkin, uma boa teoria dos direitos.9 Os mandamentos de produtividade incorporados pelos tribunais podem até causar uma (falsa) sensação de satisfação social, mas desafiam os direitos individuais das partes submetidas aos auspícios do Estado-juiz. Passemos ao cerne da crítica antiutilitarista da política restritiva de jurisdição.
Tomarei de empréstimo a teoria dos direitos de Ronald Dworkin como ponto de vista a partir do qual é possível levar adiante a promissora tarefa de entender o caráter garantista dos direitos fundamentais. Dworkin aduz que os direitos são trunfos das minorias com relação às maiorias, barreiras que protegem os interesses fundamentais de um indivíduo confrontado com a vontade majoritária. Sem dúvida, a gênese liberal dos direitos individuais explicita sua função basilar: a garantia da liberdade do indivíduo com relação aos interesses e valores da coletividade e do Estado. Direitos e garantias fundamentais são dotados, pois, de caráter contramajoritário. Uma teoria utilitarista do direito conduziria a entendimento diametralmente oposto.
Por utilitarismo, Dworkin entende a abordagem moral, a respeito do que o direito deve ser, com base na qual considera-se justo aquilo que realiza o bem do maior número possível de pessoas, mesmo quando essa realização sacrifica os interesses de algumas delas.10 A maior felicidade possível para o maior número de pessoas é uma meta social que pode vir a conflitar com interesses fundamentais de determinados indivíduos ou grupos minoritários. A própria razão de existir dos direitos é sua potencial oponibilidade contra a maioria: a intuição de que os indivíduos possuem direitos contra o próprio Estado faz parte da teoria política em que repousam os Estados constitucionais modernos. Direitos e política situam-se em campos atravessados por interseções e sobreposições; no entanto, não raro encontram-se em situações de disputa. Se os direitos sempre cedessem diante da política perderiam sua própria conceitualidade: deixariam de ser direitos e seriam rebaixados ao estado de simples pretensão.
Na teoria de Dworkin11, políticas e princípios ocupam posições dicotômicas. Políticas são objetivos não individuados a serem alcançados por uma determinada comunidade, que a melhorariam em algum aspecto econômico, político ou social; exprimem-se através de metas sociais tendentes a aumentar o bem-estar da comunidade em geral. Argumentos de política são tendencialmente utilitaristas. Princípios são objetivos individuados que expressam demandas de justiça e exigências de moralidade, e referem-se à defesa da vida, da liberdade, da integridade, da dignidade, da propriedade ou do igual tratamento de um indivíduo determinado. Argumentos de princípio são tendencialmente antiutilitaristas. E direitos são questões de princípio. Políticas e princípios podem estar em relação de concorrência, sendo que os direitos devem prevalecer sempre contra uma decisão que, mesmo que aumente o bem-estar social, interfira negativamente na esfera de direitos fundamentais essencialmente protegida de um sujeito. Nesse sentido é que direitos podem ser encarados como trunfos contra metas sociais (e como antiutilitários), pois só devem ceder diante delas caso tais metas sejam de extrema urgência e relevância; do contrário, a desconsideração de um direito mediante a execução de uma política seria motivo suficiente para gerar grave reprovação.
O Poder Judiciário é o fórum dos princípios. Pelo fato de não serem diretamente eleitos pelo voto democrático, os juízes obtêm legitimidade apenas indireta. Em uma democracia, é sabido que todo poder emana do povo – como nossa Constituição faz questão de ressaltar, em seu art. 1º, parágrafo único – e é exercido, nas democracias representativas modernas, por representantes eleitos que atuarão em parlamentos como mandatários da vontade popular. Juízes, pelo contrário, não estão idealmente sujeitos à volátil e passional vontade popular, como, aliás, decorre do próprio ideal de imparcialidade das instituições judiciais que interpretam o direito; porém, o Poder Judiciário, como qualquer outra instituição pública, jaz vinculado ao princípio da soberania do povo.
Ao decidir com base nos princípios constitucionais e nas leis promulgadas pelo Congresso Nacional, os juízes reafirmam a soberania popular. O exercício de fundamentação das decisões judiciais legitima a elas próprias perante as partes envolvidas no processo e perante a sociedade: a partir da correta fundamentação, a sociedade poderá crer que o juiz está cumprindo fielmente seu papel de decidir em conformidade com o direito e os jurisdicionados terão legítimos motivos para cumprir aquela decisão, motivos mais fortes que a mera imposição da força coercitiva do Poder Público. Especialmente por isso, decisões judiciais devem sempre ser tomadas com base em princípios (em interpretações sobre quais direitos e quais obrigações temos), nunca em políticas de gerenciamento e maximização de resultados. O Judiciário, diferentemente do Legislativo – eleito pelos cidadãos e sujeito à obrigação de responsividade e ao mecanismo de accountability12– não tem legitimação especial para decidir com fulcro em argumentos de política. Estes devem ficar adstritos às instituições democráticas eleitas, ao governo em sentido estrito. Caso contrário, teríamos um Judiciário ilegítimo e autoritário, pois indomável pelos instrumentos de controle social.
Em uma democracia, o Poder Judiciário não pertence à magistratura: os juízes desempenham função pública, e, por essa mesma razão, não podem dispor da obrigatoriedade de prestar a tutela jurisdicional justa e adequada, a qual se trata de dever vinculado à soberania popular. Os juízes não podem dispor da jurisdição, antes devem julgar os casos que lhes são desafiados à luz da melhor interpretação do direito vigente. E cada caso acarreta um determinado nível de complexidade, interpelando o juiz a debruçar-se sobre o desiderato de trazer a (única) decisão correta, a saber, aquela mais consentânea com o conjunto de princípios e regras constitucionais interpretados de forma íntegra, coerente e moralmente responsável.
Seguindo o magistério dos eminentes processualistas Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, o acesso à justiça que se ambiciona não é o mero ingressar com uma demanda judicial, mas o acesso à ordem jurídica justa, a uma solução que faça justiça aos participantes envolvidos no processo.13 Não basta que o Estado apenas se abra para o direito de ação; é necessária uma tutela jurisdicional adequada.14 Nesse sentido, acompanhamos o balizado entendimento de Fredie Didier Jr.:
É preciso, porém, fazer uma reflexão como contraponto. Bem pensadas as coisas, conquistou-se, ao longo da história, um direito à demora na solução dos conflitos. A partir do momento em que se reconhece a existência de um direito fundamental ao processo, está-se reconhecendo, implicitamente, o direito de que a solução do conflito deve cumprir, necessariamente, uma série de atos obrigatórios, que compõem o conteúdo mínimo do devido processo legal. A exigência do contraditório, o direito à produção de provas e aos recursos, certamente, atravancam a celeridade, mas são garantias que não podem ser desconsideradas ou minimizadas. É preciso fazer o alerta, para evitar discursos autoritários, que pregam a celeridade como valor insuperável. Os processos da Inquisição poderiam ser rápidos. Não parece, porém, que se sente saudade deles.15
A política judiciária restritiva de jurisdição indubitavelmente reveste-se desse tipo de discurso autoritário que faz apologia da celeridade como valor absoluto. A celeridade deve ser um valor sempre a serviço da tutela jurisdicional adequada, de uma prestação justa e reverente às garantias do devido processo legal. O atropelo do devido processo operacionalizado por essas políticas, ao desconsiderar garantias fundamentais de recurso sob o pretexto das hiperbólicas formalidades técnico-procedimentais, merece ampla e contundente reprovação da comunidade jurídica.
Argumenta-se que uma política judiciária restritiva de jurisdição promoveria o princípio da duração razoável do processo e conduziria a eficiência ao status de parâmetro de consecução da justiça. Mas, em contrapartida, a maior receptividade e resolução quantitativa de processos poderia comprometer a qualidade das decisões judiciais, tornando-se ela mesma um fator restritivo não apenas de acesso à jurisdição, como também de direitos – no caso, do direito fundamental a uma tutela judicial justa e adequada. A política judiciária restritiva de jurisdição torna as normas constitucionais ineficazes, daí ser lícito afirmar que ela se trata, igualmente, de uma política judiciária restritiva de direitos constitucionais. A criação de requisitos contra legem é inconstitucional. Nem mesmo um argumento utilitário, segundo o qual o julgamento do maior número de demandas no mais curto espaço de tempo causaria mais bem-estar, felicidade ou satisfação social, pode ser capaz, em um Estado democrático de direito regido por uma constituição e inspirado pelo ideal de justiça social, de esmagar os direitos individuais de cada cidadão. Cada cidadão de uma comunidade política, afinal, deve ser tratado com igual respeito e com insuspeita dignidade pelas instituições.
Uma comunidade política legítima deve preocupar-se com o destino de cada um de seus membros. E o utilitarismo presente na política judiciária restritiva de jurisdição causa somente um sentimento imediato de felicidade geral nos julgadores– sentimento arraigado no senso comum, mas que não é comungado pelos jurisdicionados, os quais têm suas pretensões jurídicas frustradas. O Judiciário projeta na sociedade a impressão de que os órgãos judiciais são céleres e eficientes. Mas se trata de um sentimento equivocado e inverossímil: instituições que produzem resultados injustos jamais poderiam ser contempladas com o predicado de eficientes. Lanço novamente a indagação propulsora destas reflexões: afinal de contas, o compromisso selado pelo Poder Judiciário, investido de suas atribuições constitucionais, é com a justiça na aplicação do direito ou com a (mera) eficiência estatística?
___________
1 A política como vocação. Trad.: Maurício Tragtenberg. Brasília: Editora UnB, 2003.
2 O Leviatã. Trad.: Claudia Berliner. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003.
3 Disponível em http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros (p. 34). Acessado em: 30/03/2-16.
4 Arts. 976 e ss. In verbis: “Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.
5 CARVALHO NETTO, Menelick de. “Requisitos pragmáticos da interpretação jurídica sob o paradigma do Estado Democrático de Direito”. In: Revista de Direito Comparado. Belo Horizonte. Curso de Pós-Graduação em Direito da UFMG e Mandamentos. v. 3. mai./1999. pp. 473-486.
6 Conferir, por todos: MATTOS DO AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin; FREITAS DA SILVA, Fernando Moreira. “A jurisprudência defensiva dos tribunais superiores: a doutrina utilitarista mais viva que nunca”. Disponível em: www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=bbc9e48517c09067. SANTAROSA DE OLIVEIRA, Humberto. “STJ Resp 1.498.623: jurisprudência defensiva e ilusória evolução”. Disponível em: http://portalprocessual.com/stj-resp-1-498-623-jurisprudencia-defensiva-e-ilusoria-evolucao/. OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte et al. “A jurisprudência defensiva ainda pulsa no novo CPC”. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-set-06/jurisprudencia-defensiva-ainda-pulsa-codigo-processo-civil. DUNLEY GOMES, Marco Andre; COLNAGO, Cláudio Santos. “A superação da jurisprudência defensiva”. Disponível em: http://jota.uol.com.br/a-superacao-da-jurisprudencia-defensiva. STRECK, Lenio; DELFINO, Lúcio. “Recurso bom é recurso morto”. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-dez-29/recurso-bom-recurso-morto-assim-pensam-tribunais. Todos os arquivos foram acessados em 21/03/2016.
7 Ver BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI 780441 AgR. Rel. Min. Roberto Barroso. DJ: 20.11.2013.
8 Nesse mesmo sentido a opinião de Luiz Cláudio Silva: “Seria uma incongruência jurídica não admitir que a Turma Recursal seja um tribunal de recurso, pois, apesar de sua composição por três juízes togados de primeiro grau, é a única instância recursal na estrutura dos órgãos jurisdicionais do Juizado Especial Criminal” (p. 95). In: SILVA, Luiz Cláudio. Juizado Especial Criminal: Prática e Teoria do Processo. Rio de Janeiro: Forense, 1997. Em que pese o parecer do autor ter sido proferido antes da Súmula 203 do STJ (datada de 2015), essa visão nos parece a mais acertada e alinhada com um sistema de direitos que garante o acesso à justiça.
9 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2ª ed. Trad.: Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
10 Ibidem, “Introdução”, pp. VII-XV.
11 Ibidem., p. 36, pp. 129-130.
12 A accountability ocorre quando os representantes políticos escolhem empreender políticas que estão no interesse de seus eleitores, e em decorrência terão probabilidade de serem reeleitos. As eleições servem ao propósito de avaliação dos atos passados dos governantes, pela qual os eleitores aprovam ou rejeitam um certo candidato, reelegendo-o ou não. É uma avaliação retroativa do governo. Conferir: “Elections and representation”. In: MANIN, Bernard; STOKES, Susan C.; PRZEWORSKI, Adam. Democracy, accountability and representation. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
13 ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 39.
14 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 11ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 91.
15 Ibidem, p. 55.