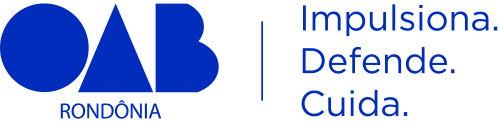Cláudio Pereira de Souza Neto
(Foto Eugênio Novais)
A Proposta de Emenda Constitucional n. 55, ora em tramitação no Senado Federal (na Câmara, a PEC recebia o n. 241), pretende instituir o “Novo Regime Fiscal”. A principal medida é congelar os gastos públicos primários (isto é: excluídos os gastos com o pagamento de juros da dívida pública) pelos próximos 20 anos. Os gastos públicos primários só seriam corrigidos monetariamente, de acordo com a inflação do ano anterior. Neste texto, verificamos se a proposta é compatível com os “limites materiais ao poder de reforma constitucional”, com as “cláusulas pétreas”. Nossa conclusão é a de que a proposta viola simultaneamente os incisos II e IV do artigo 60, §4, da Constituição da República, padecendo de graves e incontornáveis inconstitucionalidades.
I
Por meio de alteração no artigo 102 do ADCT, o “Novo Regime Fiscal” fixa, como limite para as despesas primárias, “valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, (…) para o período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária”. Se, em 2020, tivermos 5% de inflação, em 2021, os gastos públicos seriam corrigidos em 5%. Ainda que haja aumento da arrecadação e crescimento populacional, os gastos públicos só podem variar de acordo com a inflação do ano anterior. Esse congelamento dos gastos públicos perduraria por 20 anos. Aprovada agora, apenas em 2036, nossos governantes poderiam tomar decisões orçamentárias que implicassem, por exemplo, aumentar os gastos de acordo com o crescimento da arrecadação. Uma vez que a PEC seja promulgada, apenas uma nova emenda constitucional, aprovada por 3/5 dos deputados e senadores, poderia suprimir o congelamento que institui.
Apenas os “gastos primários” são limitados. Do conceito de “gastos primários”, excluem-se apenas os destinados ao pagamento de juros da dívida pública. Despesas com saúde, educação, previdência social, investimentos em infraestrutura, dentre outras, são primárias. O objetivo da PEC é fazer com que o Governo economize em áreas como essas, para pagar juros da dívida. A medida – acreditam os seus defensores – promoveria a redução da dívida e provocaria a retomada do crescimento econômico.
O “Novo Regime Fiscal” se insere no conjunto de políticas fiscais de “austeridade” que têm sido aplicadas em todo o mundo. O caso mais rumoroso talvez seja o da Grécia. Porém, a PEC ora em deliberação no Parlamento brasileiro não se compara, pelo menos no que toca ao tempo de vigência, com nada que se tenha adotado no mundo até hoje: trata-se da medida de restrição dos gastos públicos mais severa já praticada até o presente momento. É rígida quanto ao critério adotado para conter os gastos: o congelamento, com simples atualização monetária. É severíssima quanto ao seu tempo de vigência: os gastos são limitados não só durante o atual governo; são limitados para os 5 próximos governos. Os governantes eleitos pelo povo brasileiro estarão impedidos de tomar outras decisões em matéria fiscal: não poderiam sequer aumentar os gastos de acordo com o aumento da arrecadação.
De acordo com o princípio da responsabilidade fiscal, os gastos públicos devem se limitar pela capacidade do estado de arrecadar e de gerir adequadamente a sua dívida. O princípio da responsabilidade fiscal institui correlação entre arrecadação e despesas públicas. Com base nesse princípio, justificam-se, por exemplo, alterações em regras previdenciárias com o propósito de garantir que o sistema seja provido de equilíbrio financeiro e atuarial: quando há aumento na expectativa de vida da população é necessário o estabelecimento de condições mais rigorosas para a aquisição de benefícios. A PEC n. 55 vai muito além do princípio da responsabilidade fiscal ao romper com a correlação entre arrecadação e gastos. Trata-se de medida extrema e inédita no mundo. Com a PEC, ocorrerá a “constitucionalização” do princípio de “austeridade fiscal”.
Os países que adotaram tetos para os gastos públicos – Holanda, Suécia e Dinamarca, por exemplo –, sempre o fizeram por poucos anos (3 ou 4 anos). Em nenhum país, há nada que se aproxime do prazo de 20 anos que, por meio da PEC n. 55, se pretende fixar. Mais grave: esses limites não são estabelecidos nos textos constitucionais. Não há nada semelhante, por exemplo, nas constituições dos EUA, da Alemanha, da França, de Portugal, da Espanha. Em qualquer desses países, uma proposta com tal teor seria vista como extravagante à tradição do constitucionalismo. Tornou-se costume no Brasil apelidar de “jabuticaba” as inovações que surgem aqui, sem precedentes internacionais: o congelamento proposto pelo “novo regime fiscal”, pelo prazo de 20 anos, é uma “dupla jabuticaba” – financeira e constitucional. A PEC veicula a medida mais radical de toda a história do constitucionalismo fiscal.
Nenhum observador da dinâmica política global poderá negar que o mundo está em processo acelerado de transformação. Considerem-se, por exemplo, os impactos econômicos que podem decorrer das recentes eleições nos EUA e da decisão inglesa de se retirar da União Europeia. Em um cenário como esse, não é prudente simplesmente congelar os gastos públicos brasileiros por meio do artifício da constitucionalização. O horizonte temporal previsto pela PEC contrasta com a natureza conjuntural da crise fiscal brasileira. Há apenas três anos o Brasil produzia superávits primários, e pode voltar a produzi-los em pouco tempo. O Novo regime Fiscal veicula limite aos gatos públicos que deixa o país de mãos atadas, tornando-o incapaz de responder às condições cambiantes da economia mundial.
É relevante ainda a circunstância de os economistas divergirem profundamente sobre o assunto. Há defensores ardorosos da proposta, que lhe conferem significado salvacionista. Há também detratores empenhadíssimos em evitar o que, para eles, significaria um retrocesso de gravidade incomparável para a economia nacional. As divergências sobre a PEC opõem pessoas que dedicaram a vida ao estudo da economia. São divergências graves, profundas e inconciliáveis. O fato de dividir tão profundamente os especialistas é indício de que o lugar da proposta não é a Constituição.
O pragmatismo e a prudência são virtudes frequentemente cultivadas pelos políticos, e devem servir como filtro para os cálculos e argumentos herméticos apresentados dos economistas. Aqui, convém lembrar a advertência de Boaventura de Souza Santos a propósito da produção do conhecimento no mundo contemporâneo: devemos almejar a um “senso comum esclarecido” e a uma “ciência prudente”. Adotar-se um limite para os gastos públicos, por exemplo, por meio de lei complementar – a Lei de Responsabilidade Fiscal é Lei Complementar – é medida que pode, ao mesmo tempo, atender aos reclamos dos economistas do Governo, e não deixar o Brasil de mãos tão atadas para escolher outros caminhos que se imponham por conjunturas que surjam nos próximos anos.
II
A questão central suscitada pela PEC sob a perspectiva constitucional é saber se a limitação que impõe aos governantes a serem eleitos no futuro é compatível com as “cláusulas pétreas”, especialmente com a fixada no artigo 60, § 4º, II, da Constituição da República: o voto direito, secreto, universal e periódico. Em outros termos: é legítimo que os atuais deputados e senadores aprovem projeto de emenda para limitar as próximas 5 legislaturas, vigorando até 2036? Pode uma maioria conjuntural estabelecer limites tão contundentes às decisões populares que ocorram no futuro? Todas essas questões demandam que o Novo Regime Fiscal seja apreciado sob o prisma de sua compatibilidade com o princípio democrático.
Não é legítimo que uma maioria eventual se utilize da Constituição para impedir que outros programas de governo, ainda que dotados de razoabilidade, possam ser escolhidos pelo povo nas futuras eleições periódicas. Ao constitucionalizar o princípio da austeridade, a PEC impede que o governo se oriente pelo princípio da responsabilidade fiscal, segundo o qual haver correlação entre a arrecadação e as despesas. As eleições realizadas de 4 em 4 anos se esvaziarão de significado se os eleitos não puderem governar em conformidade com as ideias que expuserem à apreciação dos eleitores.
Há pouco mais de uma década, a teoria constitucional econômica, no Brasil, se dividia entre defensores do estado e defensores do mercado. Ambas as vertentes do pensamento constitucional brasileiro eram marcadas pela adesão a filosofias econômicas particulares. Como teorias constitucionais, não assistia razão a nenhum dos dois flancos da controvérsia. Ao contrário do que pretendiam os estudiosos vinculados a uma ou a outra corrente, a Constituição Federal de 1988 não adere irrestritamente nenhum tipo ideal de intervenção do estado no domínio econômico. A Constituição, embora capitalista, também abarca institutos relacionados ao uso da força pública para promover o desenvolvimento econômico e social. A livre iniciativa está garantida, mas, de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal, deve se harmonizar com a soberania nacional, a proteção dos consumidores e do meio ambiente, a busca do pleno emprego e a redução das desigualdades regionais e sociais. A propriedade também está garantida, mas na medida em que cumpra a sua função social.
A Constituição Federal de 1988, por serem genéricos e abstratos os seus preceitos econômicos, abre-se amplamente à liberdade de conformação do legislador democrático, conferindo-lhe a atribuição para definir, a cada momento da história, o grau de intervenção econômica que convém às condições do momento. Trata-se de Constituição pluralista e aberta, que deve ser compreendida à luz do “constitucionalismo democrático”: o seu compromisso fundamental não é com a liberdade ou com a igualdade econômicas; é com a própria democracia. Cabe ao legislador e ao governo, legitimados em eleições periódicas, gerir a economia nacional.
Trata-se de forma de compreender a Constituição a partir de um ponto de vista “politicamente neutro”, como prescreviam, por exemplo, o “liberalismo político” de John Rawls ou o “procedimentalismo” de Jürgen Habermas. Desde esse ponto de vista, o papel da Constituição é tão-só estabelecer as normas capazes de permitir uma interação democrática entre cidadãos, para que estes periodicamente decidam sobre os destinos da comunidade política. Para uma teoria da constituição politicamente imparcial não é legítimo conformar para as gerações futuras, pela via constituinte, um projeto econômico-social abrangente. Ao negar aos cidadãos a possibilidade de optarem por outros programas de governo, ainda que moderados e razoáveis, o “princípio da austeridade fiscal”, constitucionalizado, lhes podará parte significativa da cidadania, reduzindo-lhes a um status de “subcidadania”.
III
Afastada da prudência e da moderação que caracterizam o princípio da “responsabilidade fiscal”, a PEC n. 55 viola gravemente a cláusula pétrea estabelecida no artigo 60, § 4º, II: o voto direto, secreto, universal e periódico. Por meio da PEC n. 55, pretende-se enrijecer – a Constituição brasileira é rígida – um programa de governo que deveria ficar à disposição do povo. Constitucionalizar o congelamento dos gastos primários significa retirar, em parte, da esfera da deliberação democrática a alocação de recursos públicos. Se há um tema que deve estar aberto à deliberação pública é a composição do orçamento.
A medida poderia se justificar no âmbito de um programa contextual de estabilização econômica, no horizonte de um governo. O grande problema está na circunstância de que o governo atual pretende impor essa importante decisão alocativa às gerações futuras. Ainda que os brasileiros produzam mais e paguem mais impostos estarão impedidos de decidir como deve ser gasto o dinheiro que lhes pertence. Viola-se a máxima “no taxation without representation”, que está na origem do constitucionalismo americano – quando os atuais estados americanos eram colônias da Inglaterra, os cidadãos denunciavam a injustiça de recolherem tributos aos cofres ingleses se não possuíam representantes no parlamento inglês. O cidadão deve cumprir o “dever constitucional” de pagar tributos; mas deve também poder participar das decisões relativas aos gastos que se farão com os recursos arrecadados.
A Constituição Federal prevê três tipos de leis orçamentárias: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual (CF, art. 165, I a III). A que tem vigência mais longa é o plano plurianual. Não sem razão, vigora pelo período de 4 anos: do segundo ano de um governo até o primeiro ano do governo seguinte, quando se aprova novo PPA. É assim por que as decisões alocativas devem se renovar, no mínimo, a cada legislatura. Se as legislaturas e os mandatos presidenciais têm a duração de 4 anos, não haveria razão para o planejamento fiscal possuisse duração maior. A PEC n. 55 subverte esse subsistema, antecipando decisões que deveriam ser tomadas quando da elaboração das leis orçamentárias e da sua execução. O planejamento financeiro, que obedecia à lógica democrática da vigência quadrienal, passa a vincular 5 legislaturas.
Os países mais desenvolvidos do mundo frequentemente adotam déficits primários. Segundo dados do FMI, em 2011, os EUA, tiveram um déficit primário proporcional a 7,8% do PIB; o Canadá, a 3,9%; o Reino Unido, a 5,7%; a França, a 2,7; a Alemanha, a 0,9%; e a China, a 0,7%. O princípio da responsabilidade fiscal, dotado de moderação e razoabilidade, pode ser aprimorado em nosso sistema constitucional. Mas não é razoável substituí-lo, no plano constitucional, pelo princípio da “austeridade”. Conferir rigidez à austeridade fiscal, por meio da constitucionalização, impede que o Brasil adote medidas que funcionem em países como esses, se a conjuntura econômica exigir.
A eleição direta e periódica é, talvez, o elemento mais nuclear da Constituição Federal de 1988. As raízes de nosso constitucionalismo remontam ao processo de reabertura democrática, cujo momento culminante foi a campanha pelas “diretas já”. Democracia no Brasil significa, sobretudo, eleições diretas para presidente da República. A PEC n. 55, embora não suprima as eleições diretas periódicas, restringe excessivamente as possibilidades decisórias dos representantes eleitos. Se promulgada, terá congelado não só os gastos públicos: terá congelado a democracia brasileira.
IV
A existência de cláusulas pétreas demanda uma justificação complexa. As cláusulas pétreas limitam o poder de deliberação popular de modo definitivo. O que justifica restrição tão grave ao poder decisório do povo? Uma das respostas mais conhecidas a essa indagação evoca a ideia de “pré-compromisso”: as cláusulas pétreas são pré-compromissos assumidos pelo povo no momento constituinte. Tal argumento é esclarecido, por Jon Elster, por meio de analogia com uma das histórias de Ulisses, na sua Odisséia. Ulisses, diante da iminência da passagem de seu navio por ilha habitada por sereias, pede a seus marinheiros que o atem ao mastro e que, ao passarem pela ilha, não o desatem, mesmo que ordene enfaticamente. Com isso, poderia ouvir o canto das sereis sem sucumbir a ele. Outra analogia esclarecedora, proposta por Hayek e Holmes, é com a decisão de Pedro sóbrio que, ao chegar a uma festa, dá as chaves de seu carro a um amigo e pede que, se se embriagar e lhe pedir para devolvê-las, não o atenda. Assim também o povo se auto-restringiria, nos momentos constituintes, para impedir que, em momentos futuros de irracionalidade política, destruísse os princípios fundamentais antes estabelecidos. O argumento vale para a constituição em geral, mas é especialmente aplicável às cláusulas pétreas, que não podem ser abolidas sequer por maiorias qualificadas.
A cláusula das eleições diretas e periódicas é o aspecto central do pré-compromisso estabelecido pelo povo brasileiro em 1988: o fundamental era se proteger contra o risco de abrir mão da democracia no futuro, em momentos de irracionalidade política – a irracionalidade seria experimentada por Ulisses, ao ouvir o canto das sereias, e por Pedro, embriagado. Hoje vivemos um momento de crise. O país acabou de sair de um dramático processo de impeachment, que dividiu a sociedade brasileira. Esse momento, em que a irracionalidade política aflora, não pode ser utilizado para impor uma decisão que, por 20 anos, limitará o direito do povo decidir sobre suas prioridades orçamentárias. Equivaleria a entregar a chave do carro para Pedro bêbado ou a desatar Ulisses do mastro do navio, permitindo que sucumbisse ao canto das sereias.
O ministro Carlos Ayres Britto, atento observador das instituições nacionais, sustentou, no curso do processo de impeachment, que a democracia brasileira passaria por um “freio de arrumação”; o contexto seria de “pausa democrática” e de “transe institucional”. As observações do ministro Britto revelam a “irracionalidade” e a “excepcionalidade” que caracterizaram o momento do impeachment, que, em parte, se estende ao contexto atual. Há dois anos, política brasileira se afastou da senda da moderação e do diálogo para flertar com a irracionalidade e o antagonismo radical. O ambiente jurídico e institucional anterior não existe mais, e o que está por vir ainda não se revelou, pelo menos de modo claro e consolidado.
As cláusulas pétreas existem justamente para proteger, em momentos como esse, os princípios básicos de nossa organização política. Ainda que a proposta, em um ambiente de plena normalidade democrática, tivesse se submetido ao escrutínio popular, sua compatibilidade com as cláusulas pétreas seria duvidosa. Porém, se aprovada, como saída para a crise, com fundamento em apelos salvacionistas – uma espécie de “PEC ou morte” – não pode, com mais razão, prevalecer. O momento é de preservação do constitucionalismo democrático e de plena incidência dos princípios estruturantes da Constituição Federal de 1988.
V
Em regra, o princípio democrático – e a deferência às decisões majoritárias que dele decorre – dá sustentação a uma interpretação restritiva das cláusulas pétreas. Segundo a jurisprudência do STF, o poder constituinte reformador pode aprovar emendas que alterem os conteúdos positivados nas cláusulas pétreas: só não pode alterá-los a ponto de vulnerar o “núcleo essencial” dos princípios protegidos.[1] O parâmetro se justifica por deferência à soberania popular. A anulação de uma deliberação dos representantes do povo deve ser vista com toda a seriedade, sobretudo por se tratar de decisão proferida por mais de 3/5 da Câmara e do Senado. Cuida-se de maioria qualificada, que reforça a presunção de constitucionalidade das normas promulgadas.
Ocorre que a cláusula pétrea que está em questão é a estabelecida no artigo 60, § 4º, II, a qual garante a própria democracia. Não faz sentido ser deferente à soberania popular para se permitir que se viole a cláusula democrática. Quando emendas constitucionais suprimem normas que funcionam como limites à liberdade de conformação do legislador, ampliam as possibilidades decisórias dos representantes do povo. Porem, quando a emenda serve para que uma maioria eventual entrincheire, por meio da constitucionalização, sua orientação particular, protegendo-a contra maiorias que possam se formar no futuro, não merece deferência: o que se demanda é o exame rígido da compatibilidade da norma com a Constituição Federal. O Novo Regime Fiscal deve se submeter ao que a jurisprudência norte-americana denomina “escrutínio estrito”.[2] A PEC veicula matéria típica da legislação complementar (artigo 163 da Constituição Federal). A circunstância de se tratar de Emenda Constitucional não a torna merecedora de uma “presunção reforçada de constitucionalidade”. A mesma deferência merecida pelo legislador atual é também devida ao legislador escolhido pelas gerações futuras.
Um leitor simpático à PEC n. 55 tende a sustentar que nada impede que novas maiorias que se formem no futuro suprimam o congelamento instituído pelo Novo Regime Fiscal. O argumento incorre em dois problemas. Em primeiro lugar, não responde por que razão os 3/5 da legislatura atual podem tomar essa decisão orçamentária em nome das maiorias absolutas que se formem nas legislaturas dos próximos 20 anos. Se, na próxima legislatura, escolhida pelo povo, se formar uma maioria que decida pela alteração do critério, mas não alcançar os 3/5 dos deputados e senadores, tal maioria estará impedida de fazer sua orientação prevalecer. A doutrina econômica atual estará entrincheirada no texto constitucional. Os cidadãos terão pago seus impostos e não poderão decidir de que modo seus recursos serão gastos.
Em segundo lugar, o argumento desconsidera a forma como a dinâmica legislativa atende aos apelos políticos advindos da esfera econômica. Uma vez que a PEC seja aprovada, qualquer tentativa de revê-la será combatida com recurso à ameaça do “terror econômico”: ameaça de retorno da inflação, de fuga de capitais, de agravamento da crise econômica etc. A revogação da norma será apresentada como uma aventura e uma irresponsabilidade. Dado o presidencialismo de coalizão em vigor no Brasil, em que a governabilidade depende de coalizões com o centro do espectro político, dificilmente o Governo terá forças para superar a objeção. O argumento do terror econômico tende a funcionar como um limite de difícil transposição, ainda que um novo programa de governo seja aprovado nas urnas.
VI
Por todas essas razões, não há dúvida de que a PEC n. 55 veicula medida absolutamente incompatível com a cláusula pétrea que estabelece o princípio do voto secreto, direto, universal e periódico. Porém, incorre ainda em uma outra grave inconstitucionalidade. O congelamento que estabelece abarca também os gastos com educação e saúde, que são gastos primários. A inconstitucionalidade reside justamente no fato de que os patamares mínimos de gastos com saúde e educação correspondem a uma proporção não apenas dos gastos primários. No que toca à União, os gastos com saúde devem corresponder, no mínimo, a 15% da “receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro” (CF, art. 198, § 2º, I). Já no que se refere à educação, a União não pode aplicar menos que 18% da “receita resultante de impostos” (CF, art. 212). O Novo Regime Fiscal, porém, congela os gastos públicos ainda que aumente a “receita corrente líquida” ou a “receita resultante de impostos”. Só estarão excluídos da “base de cálculo” sobre a qual incidirá o congelamento, as “transferências constitucionais”, os “créditos extraordinários”, “as despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições” e as “despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes”.
A população aumentará de 206 milhões, hoje, para 226 milhões, em 2036. São 20 milhões de pessoas a mais. Como o gasto com saúde e educação permanecerá o mesmo (reajustado apenas pela inflação), o que ocorrerá é a redução do montante destinado per capta para os dois setores. A proporção de pessoas com mais de 60 anos é hoje de 12%; em 2036, será de 21,5%. Com a tendência de envelhecimento da população, decorrente da redução da natalidade e do aumento da expectativa de vida, o sistema de saúde será mais procurado. As já precárias condições da educação e da saúde no Brasil tendem a se agravar progressivamente pelo lapso temporal de 20 anos. O Novo Regime Fiscal congela os gastos públicos, mas, no que toca à saúde e à educação, não permitirá que sequer sejam mantidas as condições atuais. A perspectiva é de tragédia social.
A previsão constitucional de pisos para os gastos com saúde e educação são “garantias institucionais” dos respectivos direitos fundamentais. Como direitos fundamentais, correspondem à hipótese prevista no artigo 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Se aprovado o Novo Regime Fiscal, o mínimo que se espera para se preservar a integridade da Constituição de 1988 é que se excluam do congelamento os pisos de gastos com educação e saúde. Sem a aplicação efetiva de recursos públicos, esses direitos se convertem em “promessas constitucionais inconsequentes”. Submetidos esses pisos ao teto proposto pelo Novo Regime Fiscal, o compromisso básico de nossa sociedade com a promoção da dignidade humana se converterá em uma sombra pálida. O grito de Ulisses Guimaraes – “Que isto se cumpra!” –, proclamado quando da promulgação da Constituição da República, não mais ecoará nas escolas e hospitais do Brasil.
Ressalte-se que o fato de tais pisos estarem previstos em normas que se situam fora do Título II da Constituição Federal, que delimita a esfera dos direitos providos de “fundamentalidade formal”, não impede que lhes seja atribuída “fundamentalidade material” e, portanto, o status de cláusula pétrea. Tal possibilidade decorre do que estabelece o §2º do artigo 5º da Constituição Federal. Aplicando esse preceito, o STF declarou inconstitucional o § 2º do art. 2 º da EC nº 3/93, que excepcionava a aplicação do princípio da anterioridade tributária ao IPMF. O princípio está estabelecido no artigo 150, III, b, ou seja, fora do catálogo expresso de direitos e garantias fundamentais (Título II).[3] Se a vedação à cobrança de um tributo no mesmo exercício financeiro foi considerada pelo STF direito fundamental e cláusula pétrea, com mais razão tais atributos serão reconhecidos as mais importantes “garantias institucionais” dos direitos fundamentais à saúde e à educação.
VII
Espera-se que a PEC n. 55 não passe pelo crivo dos Senadores da República; se passar e vier a ser promulgada, que o Supremo Tribunal Federal resgate a integridade da Constituição, declarando-a inconstitucional. O “Novo Regime Fiscal” é a antítese da Constituição Cidadã: se prevalecer, suspenderá por 20 anos a vigência de seu núcleo essencial.
Cláudio Pereira de Souza Neto é advogado, ex-secretário-geral da OAB nacional, professor de Direito Constitucional na UFF e da UVA.
____________________________________
[1] ADI-MC 2024/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, J. 27.10.1999; ADI 2395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 09.05.2007.
[2] O parâmetro remonta a um importante precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos: o caso United States v. Carolene Products Company, 304 U.S. 144 (1938). Ficou estabelecido que as leis que promovem a restrição de uma “liberdade preferencial” (direitos fundamentais, de natureza existencial) devem se submeter a um strict scrutiny.
[3] STF, ADIN 939-7/DF, Relator Min. Sydney Sanches, DJU 18.03.94.