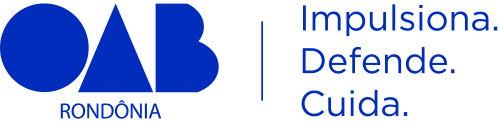“Precisamos colocar na cabeça que anistia é esquecimento, virada de página, perdão em seu sentido maior, e para os dois lados”, afirmou.
A frase proferida ontem, na data da entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, 10/12/2014, pelo Min. Marco Aurélio é um disparate, uma espécie de bravata.
Que antigo e importante Ministro do STF se posicione assim, de modo tão simplista, no debate sobre a anistia para os crimes de Estado durante a ditadura demonstra a solidez das mentiras fomentadas sobre esse processo ao longo de décadas.
Não quero me deter, neste comentário, na disputa de teses sobre o processamento, hoje, dos crimes cometidos por agentes do Estado durante a ditadura – muitos deles relatados na entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade ontem.
Comento um passo antes: a lei da anistia de 1979 não “anistiou” agentes do Estado que cometeram crimes contra a sociedade civil.
O regime duraria até 1985, e muitos outros crimes ainda foram cometidos durante esses 6 anos posteriores à lei.
Afora a discussão sobre a prescrição, o que é inaceitável é que um discurso político de muito baixo nível tenha se instalado na mentalidade da opinião pública com essa história de anistia “ampla e irrestrita” para os “dois lados”. Em primeiro lugar, isso é falso.
Militantes contra o Estado que roubaram bancos, cometeram atentados, sequestros ou outros atos de oposição ao regime, considerados crimes pela legislação da época, foram perseguidos, muitos foram torturados, julgados e condenados, senão mortos, e, no melhor cenário, foram exilados.
Quem escapou à persecução estatal não deixou de ser considerado inimigo do Estado ou criminoso foragido até a entrada em vigor da lei da anistia.
Mesmo esquecendo por alguns segundos que o regime militar foi instaurado por meio de um golpe de Estado, ainda assim é evidente reconhecer que os agentes do Estado durante o regime não tinham, por força das próprias normas que criaram, autorização para agir como demonstrado nas provas cabais reunidas ao longo dos anos por diversas comissões institucionais e associações civis.
Muitas dessas ações foram crimes terríveis que não podem e nem devem ficar sob o tapete escuro de um “esquecimento” absurdo pregado como mantra da “reconciliação”.
Tortura, desaparecimento forçado e assassinato em nome do Estado não podem ir para debaixo do tapete do esquecimento, como reproduz o – a meu ver, mal intencionado – Min. Marco Aurélio.
Argentina, Chile e até o Peru já se adiantaram nesse trabalho de compreensão histórica, incluindo a fase judicial, e acertaram suas contas com o passado tenebroso das ditaduras militares que se espalharam pela América do Sul.
O Brasil é o último. Avança lentamente, a muito custo, e ainda se ouve o ressoar de muita opinião forte e ridícula sobre o papel institucional do Estado brasileiro.
As forças armadas, ou melhor dizendo, algumas de suas associações de oficiais dirigentes, ainda lutam tenazmente para evitar sequer um reconhecimento formal dos excessos cometidos durante um regime em que exerciam o controle do executivo, legislativo e judiciário ao mesmo tempo, não podendo, assim, fugir à responsabilização.
Francamente, não acredito que as forças armadas por completo pensem assim.
Não se pode esquecer também que muitos militares foram alvo de perseguições, tortura e desaparecimento forçado por parte do comando do regime.
Mas é óbvio que, pela falta de reconhecimento de seus erros institucionais, ainda predominam nas forças armadas as opiniões obscuras de muitos de seus líderes equivocados e de suas agremiações.
Esta semana o Congresso norte-americano concluiu um relatório de mais de 6.000 páginas sobre uso massivo da tortura no contraterrorismo da era Bush. Alguns números são assustadores.
Estrategicamente falando, como política de Estado, o mais importante é a conclusão de que a tortura não fez o contraterrorismo avançar.
Moralmente falando, o país que não admite legalmente o uso da tortura vai se entendendo, em pouco tempo, com sua história recente e se preparando, também a muito custo, claro, para levar ao banco dos réus os agentes estatais que fomentaram o uso de práticas que violam os direitos humanos e denigrem a identidade moral da nação. Como afirmou o Presidente Barack Obama, “nenhum país é perfeito, mas uma das forças que tornam a América excepcional é nossa vontade de enfrentar abertamente nosso passado, encarar nossas imperfeições, fazer mudanças e melhorar”.
As cenas de violência racial e social nos Estados Unidos não deixam de mostrar profunda conexão entre o abuso de poder do Estado, a formação autoritária do país e os mecanismos ainda vigentes na condução dos assuntos públicos – dentro e fora de suas fronteiras.
O que dizer então sobre o Brasil? Existe ainda tortura? Existe muita violência? Somos um país melhor? Mais seguro? A ditadura afundou o país economicamente e ainda nos legou sólidos fundamentos de autoritarismos ainda dominantes, boa parte dos quais são muito bem protegidos pela ordem de “botar na cabeça o esquecimento”, conforme proposição descabida do insígne Ministro supracitado.
De minha parte, Ministro, recuso a oferta!
No meu magistério superior, no meu ativismo social e jurídico e na criação dos meus filhos existe um direito e um dever do qual não abro mão, o qual fundou a razão desde os tempos da Grécia antiga e em nome do qual trabalhamos arduamente até hoje: a busca pela verdade.
Rodolfo Jacarandá é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB/RO, doutor em Filosofia (Unicamp) e professor da Universidade Federal de Rondônia.